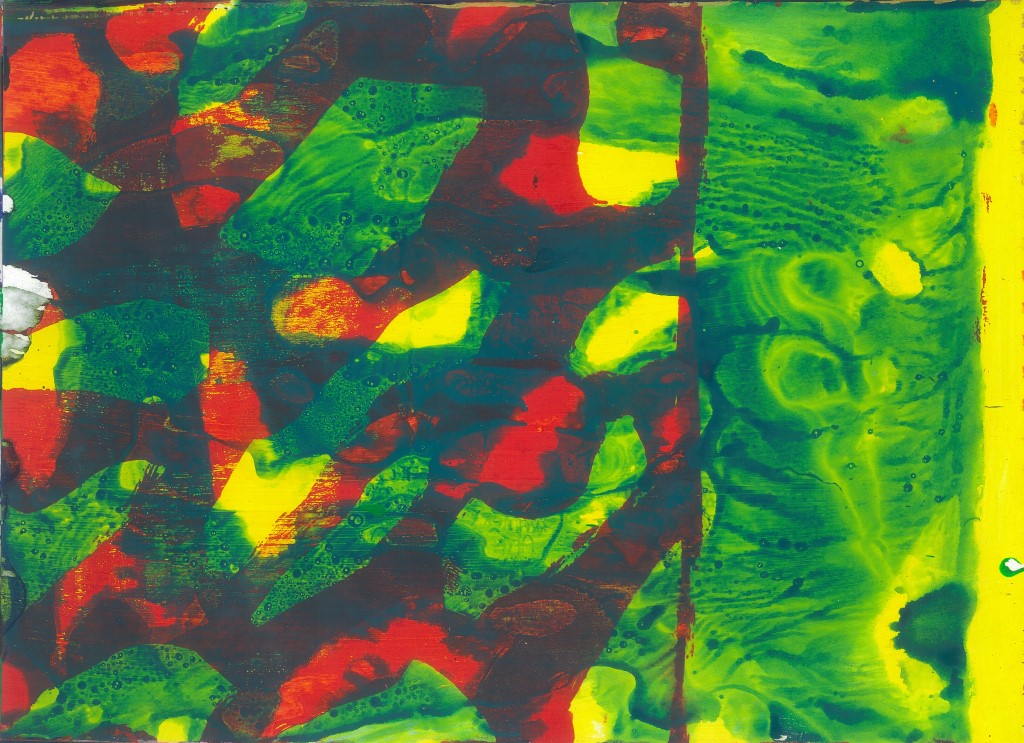A partir do início da última década do século XX, Portugal mobilizou recursos financeiros e humanos para a concretização de um plano de requalificação da zona Oriental da cidade. A antiga zona industrial na fronteira entre os concelhos de Lisboa e Loures, seria transformada primeiro na 53ª Exposição Mundial [1] e logo depois numa zona “nova” da cidade. Nos 340 hectares de terrenos situados nas margens do Tejo onde o tempo depositou a desordem, uma nova ordem urbana surge, dialogando com as narrativas normalizadas da memória. A Expo 98 foi a ex-libris das obras públicas dos anos 90. Porém, o esplendor ofuscante deste colosso da requalificação urbana deixou na sua sombra histórias que não chegaram a ser inscritas, ou que foram simplesmente mal inscritas, na memória coletiva, como a história daqueles que aí trabalharam, quem eram e porque estavam ali. Na parte “mais suja e feia da cidade” surgiu, então, um espaço revitalizado, a olhar para o futuro do Planeta e dos Oceanos, e pronto para a fruição domingueira.

Parque das Nações. @ Rui Sérgio Afonso 2021
Da ruína à utopia. Do consenso à tímida discórdia.
A ruína, e aquilo que se faz dela, costuma dar-nos uma boa oportunidade para observar a passagem do tempo e a relação que mantemos com o passado, com o que queremos preservar, ou queremos “apagar”. Em paralelo com a emergência de um espaço requalificado na zona Oriental de Lisboa, fabricou-se a nova identidade urbana para aquilo que hoje conhecemos como Parque das Nações, mais ilha isolada do que península, mais virada para dentro do que capaz de se relacionar com as suas imediações, ou com o passado anterior à intervenção. Apesar de tudo, a operação foi muito mais do que mera cosmética, pois o discurso que acompanhou a construção deste espaço na cidade, há pouco mais de vinte anos, esteve como era de esperar (vista a dimensão da empreitada) refém de uma certa forma de política da memória que se praticou, pratica e, arrisco a dizer, continuará a praticar-se por estas paragens. Cabe-nos a nós mudar isso, como sempre. E, como sempre também, reunir as vontades para fazê-lo.
Recentemente, e ao mesmo tempo que se celebravam em 2018, os vinte anos da Expo, com exposições de fotografias do antes e depois, a jornalista Fernanda Câncio dava voz a algumas pessoas que conheciam de perto esta zona da cidade antes da intervenção. Um dos seus interlocutores chamava a atenção para o facto de haver mapas da cidade, em 1988, onde toda a zona a partir de Santa Apolónia até ao Oriente era omitida “como se não existisse”, “uma terra de ninguém” [2]. Bruno Portela, que fotografou exaustivamente a zona, antes da intervenção, e publicou o livro “Uma cidade pode esconder outra”, reconhecia que se tratava de “uma zona negra, uma zona de sombra, que as pessoas sabiam existir, mas não encontravam razão para lá ir. Nem que fosse pelo género de atividades que ali predominava[m]” [3] e o desconforto que vinham gerando: um matadouro, indústrias petrolíferas, sucatas, barracas, e o depósito de material de guerra de Beirolas. Junte-se-lhe o Trancão poluído.
Ironia da história, ou talvez não, que no lugar do depósito de material de Guerra - fica a questão de saber qual guerra, e a especulação de que, pelo menos parte, seria material das guerras mais próximas, as coloniais - apareça aquilo que o ensaísta João Martins Pereira, uma das poucas vozes a quebrar o consenso na altura, descreve como culto fremente do passado, e dos antepassados, impregnado da epopeia quinhentista [4], e de toda uma linguagem utópica que nos persegue como um vício. Para um jornalista da altura, aqueles terrenos irradiavam uma estranha poética, mas a metonímia perfeita de todo esse processo de reconversão e da sua incauta profundidade histórica, é dada pelo comentário de um internauta às fotos de Bruno Portela partilhadas online, 20 anos depois. "Era uma zona da cidade muito feia e triste, agora está mais civilizada".
Da ruína das guerras fabrica-se uma esperança adventícia e desenham-se hipérboles ocas aos Oceanos vendidos durante a operação de charme da Expo como património para o futuro, com promessas de maior equilíbrio ecológico. Tal equilíbrio foi afinal apenas circunstancial, uma quimera perseguida apenas no terreno da utopia. O utópico não se materializou apenas no Pavilhão da Utopia - por dentro um cavername de uma caravela de conquista, por fora uma nave espacial - mais tarde rebatizado de Atlântico, depois de Meo Arena, agora AlticeArena. O utópico esteve presente desde a origem da Exposição Mundial. No germe, a ideia de António Mega Ferreira e Vasco Graça Moura: celebrar os 500 anos dos Descobrimentos portugueses, da mitificada viagem de Vasco da Gama à Índia. O utópico guiou também a construção da Torre com o nome do navegador, “o arranha-céus mais alto de Lisboa, com uma altura de 145 metros, preparada para resistir a ventos de 320 km/hora. Apresenta um perfil de vela enfunada, evocando os inúmeros navios portugueses que saíram do Tejo para descobrir o mundo” [5]. Hoje, um hotel de luxo. Sob a égide do “custo zero” - argumento usado para calar as resistências - toda a operação criou infraestruturas que justificaram a fortíssima ideia de “grandes investimentos públicos, grandes rentabilidades privadas” [6].

Parque das Nações. @ Rui Sérgio Afonso 2021
A celebração do orgulho expansionista, que perdura as mais das vezes sem arestas nem conflitos, é sintomática da relação passional-ficcional que temos com o passado. As contradições dessa relação são esquecidas, ocultadas, e substituídas por uma forma de pensamento positivo que menoriza o pensamento crítico. Assim se encobrem as más consciências, as falsas consciências. Os objetos que invocam má consciência são vistos com aversão e escondem-se envergonhados ou desaparecem sem contar a sua história: um corno de rinoceronte que termina vendido através de um intermediário na Feira da Ladra a um par de irlandeses que o vão reduzir a pó e vender nos países asiáticos; um dente de marfim talhado que guardou um dia o valor que se esvaiu do escudo português durante a desco-lonização apressada e tardia, e não encontra novo dono. Já no espaço público, a materialidade engana menos sobre a identidade que se quis representar, pois foi nele que se fizeram pontes e passeios de heróis e aventureiros. Representaram-se culturas e nacionalidades em apenas algumas centenas de metros quadrados cada, em jeito de certame, por meio ano. A toponímia das ruas atesta as honras feitas a personagens históricas e literárias, demonstrando a construção de um imaginário naval (que também é bélico, embora essa parte tenha tido o mesmo destino do Depósito de Material de Guerra de Beirolas, o “exílio”) ligado aos mares e à viagem, extraindo das histórias apenas os ícones e não os seus feitos, a exemplo da história que se ensinava nos anos 90. Reis Venturosos, Infantes, Vice-Reis das feitorias do Oriente, coabitam com Ulisses, Gulliver, Sandokan, Capitão Cook, ou Corto Maltese, nem a Nau Catrineta foi esquecida, e estes com Cousteau, Gago Coutinho, Roald Amundsen, Chen He e outros exploradores, todos nomes de ruas, passeios e avenidas no Parque Expo. Uma verdadeira orgia literária a desembocar na Via do Oriente, que melhor seria se lhe chamássemos Via do Orientalismo.
Neste país onde as práticas discursivas oficiais tendem para o heróico e hiperbólico sempre que se fala de obras públicas, todos querem ser o Marquês de Pombal ou o Duarte Pacheco, porque nos habituámos que a história guarda os nomes dos arquitectos, administradores, políticos, e personalidades em visita. A história raramente guarda memória de pessoas como o Aboubacar.
O sustento da utopia
Em 2005 conheci Aboubacar, um imigrante que dizia ter construído a Expo. Cruzei-me com ele naquilo que se pode chamar uma trajetória descendente, quando a dúvida existencial lhe devorava as entranhas e os problemas psicológicos se manifestavam em desorientação. Chamou-me a atenção a sua boina de couro e o seu olhar doce, na esquina da pastelaria Suíça. Encontrar Aboubacar foi uma casualidade.
Na altura falava-se insistentemente de Ceuta e Melilla, de grandes vedações de oito metros, de pessoas africanas que as subiam, de invasões de imigrantes ilegais e tiros de resposta das polícias marroquina e espanhola. A Frontex fora criada em 2004 e com ela a Fortaleza Europa ganhava forma. Talvez fosse esse um dos expoentes máximos da paranóia em relação à migração africana para a Europa. Porém, os anos 90 também conheceram a sua dose de especulação sobre os contingentes de africanos clandestinos, sobretudo aqueles vindos das ex-colónias, vistos como “a horda que vem para a Europa”. O facto de que, consistentemente, apenas 3% do total de migrantes africanos sai de África nunca é inscrito no discurso [7], é um conteúdo sem signo. Já a
hype
da migração nos anos que precederam a construção da Expo era a transformação de Portugal, de um país de emigração num país de imigração.
Os que vinham começaram por ser “os clandestinos”, depois passaram a ser “os ilegais”. Viviam naquilo que os jornalistas catalogavam de guetos. Comunidades vistas como isoladas, porque os seus laços para o exterior nunca foram devidamente reconhecidos. Por sua vez, estas comunidades eram vistas como refugos étnicos, coisa que nunca foram, por serem antes mais dadas à transitoriedade do que à duração. Apesar do olhar determinista, alguns lá iam denunciando que entre esses migrantes "Muitos trabalham na construção civil, mas porque a sua situação é ilegal são explorados por empreiteiros sem escrúpulos" [8]. Sobre isso não falava o então ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, com uma visão bem mais instrumental que arrogava a Portugal o direito de “escolher”, ou seja “autorizar” de acordo com os seus interesses [9]. Portugal decide, dizia o ministro. Portugal decidiu, pois então, duas regularizações extraordinárias nos anos 90, contributos diretos para a empreitada milenarista de terminar o século a celebrar o mito de Portugal.
Não sei se é verdade ou não, já que as datas não batem certo, mas Aboubacar dizia que tinha construído a Expo. Dizia-o com orgulho. Terá trabalhado por ali, em algum momento da sua estada no nosso país. Em 2005, quando o encontrei pernoitava no abrigo de Xabregas [10], que dizia odiar, porque aí encontrava os conflitos dos quais queria fugir. Vivia em permanente pânico que lhe roubassem o pouco que lhe restava durante a noite. O abrigo só lhe garantia pequeno almoço e jantar. O resto do tempo do dia, entre as 9 e as 18, ninguém podia ficar no abrigo. A maior parte deambulava pela cidade. Xabregas é ainda a parte Oriental da cidade, certo? Mas Xabregas não foi pintalgada de fresco, e as ervas daninhas ficaram onde estavam. E de 2005 até agora só mudou a especulação imobiliária. Na sua condição de deambulante, sem teto e sem vontade de ficar no abrigo à espera de ser roubado, Aboubacar desenvolveu uma forma de patologia psicológica. Mesmo contar a sua história tornou-se difícil. Os elementos eram escassos, confusos, contraditórios, sintoma típico de narrativas traumáticas. Dizia ter trabalhado na construção civil durante a Expo, ter vivido numa casa com muitos outros homens vindos também para trabalhar, ainda sem as famílias. Em 2004, quando já não conseguia pagar contas, dizia que lhe tinham armado uma cilada. Os papéis desapareceram numa inundação. Os guineenses com quem vivia fizeram um conluio, e ele viu-se no meio da rua. O trabalho na construção civil também deixou de ser uma opção com o retraimento económico que começou por essa altura e culminou na crise de 2008. A sua força de trabalho passara de desejável a dispensável.

Parque das Nações. @ Rui Sérgio Afonso 2021
Algures durante o ano de 2006, acabou por ser integrado, com ajuda, no programa de repatriamento da OIM [Organização Internacional para as Migrações], levando consigo algum dinheiro para se estabelecer no seu país de origem. Só voltei a saber dele, estava eu no Senegal, acredito que em 2011. Era agora professor de francês, como sempre tinha sido, e preparava-se, com mais de quarenta anos, para se casar com uma jovem da aldeia. Os anos perdidos da sua vida têm um nome: Portugal. O país que celebrou os seus feitos de Nação com um destino e o seu Império perdido, em 1998, e em continuidade com a sua história, aproveitando-se da mão de obra desvalorizada pela racialização.
A vida de Aboubacar é apenas uma entre muitas que foram mobilizadas enquanto força de trabalho durante os anos 90. Um entre os muitos que tinham de usar o estaleiro só para negros, e viram os seus colegas perderem as mãos, os braços e a vida. Um entre os muitos que eram pagos ao metro como incentivo para produzir mais, ao invés de ser pago com um salário sem contas opacas. Um entre os muitos que faziam fila para receber o dinheiro que saía de uma mala, em numerário, no dia de pagamento, sujeitando-se à indignidade. Um dos muitos migrantes que foram explorados por sub-empreiteiros que passavam meses sem pagar, pagando em promessas ou chantageando, e agiam como verdadeiros capatazes numa plantação, fomentando o conflito e a divisão, para triar os mais vulneráveis e melhor tirar deles o valor do seu trabalho.
Aboubacar é de Conakry, mas muitos outros eram angolanos, guineenses, caboverdianos, senegaleses. Esses milhares de homens que justificaram a regularização extraordinária , e ajudaram Portugal a ter mais uma glória pífia com a organização de um evento que marca o ocaso do colonialismo português, relembram-nos que a utopia não se constrói com quimeras, mas com mãos e suor, e que não há utopias sem capatazes nem vidas “descartáveis”.
Memorialização
Hoje usufruímos deste espaço, relacionamo-nos com facilidade com o rio e com a paisagem. O relvado arborizado à beira rio estendendo-se até à ponte convida ao passeio, o passadiço convida os corredores ao jogging. Facilmente somos absorvidos pelo momento e pela fruição, porque não há nada que nos lembre o que ficou nas fundações. A vista vendeu-se bem nas novas zonas residenciais criadas e toda a zona entrou diretamente para o topo da lista das mais caras por metro quadrado na cidade. O pavilhão-cavername acolhe grandes eventos como a “maior conferência sobre tecnologia” do planeta (a Web Summit, com quem o Governo português conseguiu um acordo de permanência). A fundação de uma nova cidade …
Como se memorializa então, neste espaço cheio de cânones históricos quase intocáveis, o contributo de um número considerável de africanos para a construção deste colosso? Como se memorializam as presenças invisíveis? Como se reconhece aqueles que contribuíram mas jamais foram inscritos no discurso identitário que fez da Expo uma continuidade histórica com os últimos cinco séculos da nação Portugal? Como se memorializa a diversidade num lugar onde se empacotaram culturas como totalidades? Como se memorializam aqueles que as políticas da memória teimam em excluir em prol dos conceitos, das ideias, das utopias e quimeras? Quando sairão do anonimato as suas narrativas? A mim ficam-me só questões, as propostas têm de ser coletivas.